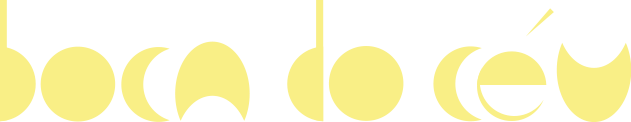Rostos, vozes e imagens das narrativas orais brasileiras
Quando os primeiros coloninvasores desembarcaram em terras brasileiras, desde muito tempo já havia aqui formas de vida com seus costumes, línguas e palavras míticas, distribuídas entre mais de mil povos que reuniam cerca de dois milhões de nativos. Depois de séculos de genocídios, trezentas e poucas etnias indígenas persistem hoje como podem, convivendo em diversos níveis de extrema desigualdade com outros grupos humanos que aqui foram chegando, deitando suas raízes e deixando marcas na nossa forma de vida atual: árabo-ibéricos, africanos, franceses, ingleses, italianos, alemães, japoneses, chineses, coreanos…
Brasileiros somos tudo isso junto misturado.
É possível, assim, afirmar a existência entre nós de muitas tradições orais oriundas de diferentes lugares do Brasil, constituindo um tecido híbrido, quase sempre encoberto e desconhecido dos próprios brasileiros, que em sua maioria não se dão conta de sua presença na pulsação que irriga o sangue bombeando em nossas veias.
Se o que prevalece na tessitura de nossas tradições populares é uma enorme pluralidade de influências nativas e estrangeiras que se enfeixam, se atravessam e se transformam sucessivamente, o que é ser brasileiro afinal?
Pergunta que leva a outras que poderiam substantivar a ação artística de narradores contemporâneos, como por exemplo:

O que é ser um contador de histórias brasileiro?
Um Djeli (*) de Burkina Faso fala em nome de uma linhagem ancestral que o antecede e que o sustenta em voz e propósito, dando sentido a seu ofício.
Em nome de quem ou do que fala um narrador brasileiro atual?
O jabuti foi o único animal que conseguiu memorizar o nome da fruta: ele não o esqueceu porque o repetiu no ritmo e na melodia da flauta que veio tocando no caminho de volta para casa. Com isso possibilitou que todos os outros animais não morressem de fome. Como podemos ter acesso a essa pulsação primordial da alma brasileira?
Não, não está faltando um parágrafo. Pulei direto para a metáfora que inspira o desenho conceptivo desse Boca do Céu março/2021.
O conto do Jabuti e o Nome da Fruta é emblemático de nossa oralidade popular. Nas compilações de folcloristas e outros estudiosos em várias partes do mundo onde foi encontrado, é apresentado às vezes como de origem indígena ou africana, de acordo com as fontes do compilador (**).
No começo do mundo, os animais estão famintos e um a um são enviados para falar, conforme a versão, com Deus/ o rei leão/ uma velha feiticeira para perguntar como se chama a árvore/ a fruta que só poderá ser comida por quem souber seu nome. Todos fracassam porque são distraídos no caminho de volta por acidentes variados – um buraco no caminho/ um abutre -, que os fazem esquecer o nome da fruta. O jabuti, tocando na flauta a melodia do nome que não para de repetir, consegue o que todos queriam.
Esse conto nos permite continuar perguntando:
Qual a fruta que procuramos como contadores de histórias? Esta fruta tem um nome ou vários?
Existiria um “fio vermelho” fundador e unificador de toda essa diversidade das tradições orais brasileiras? A repetição do ritmo do nome da fruta pode nos dar uma pista para nossas perguntas?
Existe uma voz que caracteriza de algum modo os contadores brasileiros distinguindo-os dos estrangeiros?
Durante a História do Brasil houve e há até hoje muitos abutres ao longo da colonização que nos foram impingidos para nos confundir, para nos calar e fazer-nos esquecer nossas próprias vozes.
Para saber tocar nossas flautas é preciso percorrer um longo caminho de pesquisa e reconhecimento dessa árvore aparentemente(?) inacessível. É preciso buscar nossos folcloristas e outros autores que estudaram e estudam essa árvore das oralidades brasileiras, com suas raízes indígenas ancestrais, com seu tronco mestiço se transformando em inúmeros ramos, folhas, flores e diversas frutas das nossas culturas orais.
Autores que desvendaram repertórios riquíssimos de literaturas de cordel, romances, xácaras e contos populares, cantos de trabalho, brincadeiras das crianças, autos e liturgias sincréticas, constituindo uma infinidade de palavras dançadas, cantadas, dramatizadas e arranjadas em verso e prosa, presentes na vida cotidiana e nas festas populares, muitas vivas até hoje.
Gente, sem ao menos nos interrogarmos sobre os significados desses tesouros, como poderemos contar histórias com um mínimo de retidão de pertencimento?
De que lugar podemos caminhar na direção de outras formas de culturas tradicionais, como as que povoam os países hispânicos nossos vizinhos? Que como nós, também foram assolados por tantos abutres que os obrigam, entre muitas outras coisas, a falar escondido suas línguas nativas?
Nessa edição, o Boca do Céu enfrenta um desafio gigante e apresenta um propósito ambicioso. Nossas comunicações seguem telificadas – quem aguenta hoje assistir mais uma live? – e, ao mesmo tempo, queremos pensar na metade cheia da garrafa, buscando nos dedicar a um sonho antigo: preparar-nos para bater à porta dos nossos “hermanos” (o que desejamos fazer no nosso próximo Encontro presencial) e, entre uma dança, um canto e uma história trocadas entre nossas tradições orais, nos perguntarmos: o que temos em comum e o que nos distingue?
A preparação/ programação desta semana de agora consiste em apresentarmos movimentos que nos permitam perceber características de tradições orais brasileiras e nos aproximarmos de contextos que as geraram em diversos âmbitos de realidade, com suas tragédias e suas belezas.
Por isso, convidamos estudiosos e estudiosas de refinada alma artística para nos contar sobre suas pesquisas, para que a gente possa admirar as constelações de imagens poéticas e conceituais que se descortinarão diante de nossos olhos um tanto ignorantes, por meio da maestria de suas conversas eloquentes, velas acesas nos caminhos da escuridão do mundo.
Bem-vindos e bem-vindas ao Boca do Céu.
(*)djeli- griot na denominação europeia.
Regina Machado