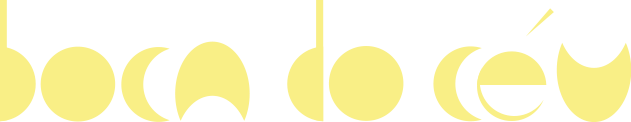Texto: reviver e progredir
voltar às notíciaspara Elisa Kauffman Abramovich
Por Leda Cartum

Temos que acreditar nos fantasmas. Eles também existem. Pelo menos para nós, que conhecemos a Casa do Povo. Nesses andares amplos e livres, em meio às paredes nuas e por entre os tacos do chão, tanta história repercute que é difícil frequentar a Casa e não perceber passar, de vez em quando, algo ou alguém que parece assombrar o ambiente ao redor. Muita gente – vinda sobretudo de um Leste que não existe mais, fugindo de países cujos nomes já mudaram e se fundiram com outros – chegou até aqui. Pessoas que muitos de nós nem conhecemos; várias delas morreram antes mesmo de termos nascido. E, ainda assim, seus atos não apenas possibilitam os nossos como também continuam através daquilo que fazemos, daquilo que essa Casa povoada e assombrada nos inspira a fazer: um passado que não morreu junto com quem está morto, mas que, ao contrário, participa da atualidade a ponto de manter vivas essas pessoas que agem por nossos gestos e falam por nossa voz.
Em 1947, foi eleita pela primeira vez no Brasil uma mulher vereadora, pelo Partido Social Trabalhista (PST). O nome dela era Elisa Kauffman Abramovich. Filha de judeus asquenazes que vieram da já inexistente Bessarábia (território que hoje se divide entre Moldávia e Ucrânia) fugindo dos pogrons1. Elisa nasceu em 1919 e cresceu com um militante comunista dentro de casa, acolhido por sua mãe: tratava-se de um jovem perseguido pelas forças da ditadura do Estado Novo. Um pouco mais velha, ela entrou para o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Mais adiante, passou a viver com o marido e as filhas em um prédio no Bom Retiro, na esquina da Rua Prates com a José Paulino. O apartamento era constantemente frequentado por militantes como Carlos Marighella e Luís Carlos Prestes, sempre cheio de “reuniões do comitê estadual do Partido, do comitê central, comitê de bairro, comitê judaico, comitê de tudo”, como conta uma de suas filhas, a pedagoga e escritora Fanny Abramovich.
Elisa, com a maior votação da bancada (2.940 votos), foi uma das 15 pessoas do PST (como o PCB foi cassado pouco antes disso, ela e os outros candidatos comunistas foram acolhidos pelo Partido Social Trabalhista) a conquistar lugar entre as 45 cadeiras da Câmara Municipal de São Paulo. Mas eles nunca chegaram a assumir a posição a que, democraticamente, tinham direito: um dia antes da posse da nova legislatura, na véspera do ano novo de 1948, chegou um telegrama na sede da Câmara, o Palacete Prates. O Tribunal havia declarado inexistentes os registros de todos os candidatos do PST. Estava nas mãos do Estado, nesse caso como também em incontáveis outros, o poder de decidir o que existe e o que não existe: e eles preferiram privilegiar na Câmara figuras como Jânio Quadros, um dos suplentes que assumiram os cargos de vereador no lugar dos comunistas. Ninguém sabia, na época, que esse era o início de uma carreira que levaria Jânio, catorze anos depois, à presidência do país; e, somando-se sete meses a esses catorze anos, à sua renúncia. Ninguém sabe, até hoje, qual teria sido a continuidade de um início que nunca houve: Elisa Abramovich só foi reconhecida como a primeira mulher vereadora do Brasil em 2013, exatamente cinquenta anos depois de sua morte prematura.
O único diploma de Elisa foi o de um curso profissionalizante de confecção de flores artificiais. Como tantas mulheres do século XX que não tiveram formação acadêmica, tudo o que ela aprendeu foi a partir da experiência e das relações – no contato constante com as ruas, com os refugiados imigrantes que chegavam da Europa, vítimas do Holocausto, ou com os fugitivos de países árabes, dentro e fora do Partido, também na sua participação como administradora na Organização Feminina Israelita de Assistência Social (Ofidas). E, se sua carreira política oficial terminava logo ao começar, ela foi outra mulher a provar que é sobretudo nas margens, na luta contra as posições que nos são impostas de cima e de fora, que se faz a verdadeira política.
A pedra fundamental da Casa do Povo foi colocada em 1947, mesmo ano no qual Elisa Abramovich foi eleita e impedida de assumir. Nessa inauguração, no primeiro folheto do ICIB, havia a frase “reviver e progredir”: ideal que é uma espécie de antibandeira nacional, já que aqui o progresso só se faz possível através da desordem da memória. A Escola Scholem Aleichem começou a funcionar dois anos depois disso, e foi transferida para a Casa em 1953, promovendo a “disseminação dos ideais antifascistas e progressistas no cenário social brasileiro, por meio de uma educação pluralista e inovadora”. Elisa assumiu a direção da escola em 1958.
A Scholem Aleichem era um espaço totalmente laico – como revelava a inscrição em iídiche abaixo daquela em português –, aberto às novas tendências experimentais da pedagogia. O judaísmo era integrado às questões do contexto brasileiro, procurando possíveis cruzamentos entre culturas e povos, entendendo que não há superioridade de uns em detrimento de outros. Assim, aproveitavam-se os feriados judaicos para se lembrar, também, de acontecimentos históricos do Brasil: o Pessach foi associado à abolição da escravatura – falar dos escravos que foram libertos no Egito tornou-se também motivo para compreender o papel da escravidão na formação brasileira –; o Purim aproximou-se do Carnaval; o Chanuká ligou-se às festas de Natal e Ano Novo. Entre aquilo que os judeus trouxeram de longe e o que encontraram ao chegar num país estrangeiro, o que se fazia nessa escola era perceber que não era preciso negar nem um, nem outro, mas antes reconhecer que tudo isso é igualmente importante e formador: abrir o espaço para que, na comunicação entre desconhecidos, fosse criado algo novo, que só era possível naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas.
Elisa Abramovich morreu de câncer numa sexta-feira de 1963, com apenas 43 anos. Muito, muito tempo depois, em abril de 2017, catorze mulheres se reuniram em volta de uma mesa para comemorar um seder de Pessach2. Eu estava entre elas. Nenhuma de nós tinha ouvido falar de Elisa. No entanto, sem mencionar seu nome, essa talvez tenha sido uma das tantas homenagens que fazemos sem saber que estamos fazendo: brindamos para ela e para pessoas que nós não conhecemos e de quem muitas vezes não sabemos nem o nome, nem a história, mas que nos trouxeram até onde estamos. A ideia de fazer um seder só de mulheres foi bastante espontânea: nasceu de uma conversa e, de repente, nos reuniu para sentarmos juntas em volta de uma mesa. Na religião judaica mais tradicional, resta às mulheres uma função auxiliar em relação ao protagonismo dos homens nas rezas e nos estudos; as necessidades espirituais da mulher são limitadas ao espaço doméstico e, nas sinagogas ortodoxas, normalmente somos impedidas de ficar no mesmo nível da Torá, junto com os homens que conduzem as cerimônias. Naquele Pessach feminista, cada uma ali presente trazia consigo, além dos pratos que cozinhamos e experimentamos, uma relação particular com o judaísmo e com o seu percurso familiar, que queríamos renovar e compartilhar a partir desse encontro, inventando um espaço que não costuma existir.
O Pessach talvez seja a festa que sintetize o judaísmo de forma mais completa, por trazer o gosto do passado para dentro de nossas bocas pelo salgado das lágrimas dos escravos nas quais molhamos os ovos, a argamassa pastosa e doce com que eles trabalhavam, o pão sem fermento que os sustentou durante quarenta anos de peregrinação pelo deserto no trajeto que constituiu um povo – tudo isso em nossa mesa, vivo e cheio de cheiros que atualizamos ao contar a história do que aconteceu há tanto tempo para nos lembrar, para não esquecer. Mas lembrar não significa deter-se no passado e nele permanecer. Significa evocar os passados que habitam nosso tempo, misturar aquilo que já foi, aquilo que está sendo e aquilo que poderia ser: para que as imagens do passado não se sobreponham ao presente nem se tornem uma âncora que nos puxa para baixo ou uma condenação que pesa em nossos ombros e nos impede de levantar os braços. Cerimônias como o Pessach interessam sobretudo porque colorem os acontecimentos da memória com sabores atuais, porque possibilitam a mistura dos tempos e fazem dançar os fantasmas em cima da mesa, junto conosco, com as músicas que voltamos a cantar.
No livro Caminhos divergentes – Judaicidade e Crítica do Sionismo, Judith Butler, filósofa judia contemporânea, diz que “o passado não é ‘aplicado’ ao presente […]. O que se mostra vibrante no presente é a ruína parcial daquilo que foi anteriormente. […] A tradição se estabelece ao se afastar de si mesma, repetidas vezes, ao passar pelo campo da tradução e da transponibilidade”. A tradição é importante para nós na medida em que é diariamente traduzida, ganhando novas luzes na atualidade, tornando possíveis novos espaços e novas formas de agir. Pensar em pessoas como Elisa Kauffman Abramovich, nos seus gestos e no seu percurso fundamental para a construção da Casa do Povo, é compreender mais profundamente aquilo que estamos fazendo hoje – quando refugiados continuam a chegar ao país, vindos de longe e fugindo de guerras; quando o Estado continua a tentar negar os nossos corpos e calar a nossa voz.
“Não temer a vida e admirar o valor de todas as coisas do mundo”. Esta é uma frase grifada por Elisa em um livro do educador Anton S. Makarenko (como consta no texto de Cecília Luedemann, “Anotações de leitura sobre Makarenko: o poema pedagógico de Elisa Kauffman e Fanny Abramovich”, no qual o livro do educador ucraniano é analisado a partir das anotações de leitura de Elisa). Essa frase destacada poderia ser, por sua beleza simples e clara, o grito que atravessa nossas lutas pelo tempo – entre as pessoas que estão aqui e aquelas que não estão mais. Se existem poderes que se consideram capazes de determinar aquilo que existe e o que não existe, nós também podemos escolher as existências que nos interessam: não vamos temer os fantasmas que nos perseguem; vamos abrir espaço para ouvir o que eles têm a nos dizer, e assim continuarmos a agir no presente.
Texto originalmente publicado na edição 1018 do Nossa Voz, da Casa do Povo.
Leda Cartum escreveu os livros As horas do dia – pequeno dicionário calendário (7Letras, 2012) e O porto (Iluminuras, 2016). Mestre em Literatura Francesa pela USP, hoje trabalha com texto em diversas áreas – da tradução ao roteiro.
1 A palavra pogrom – em íidiche, פּאָגראָם – significa qualquer ataque violento e maciço para destruir um povo e o seu ambiente. Costuma ser usada para designar os atos de violência em massa que ocorreram principalmente contra o povo judeu, na Europa, em meados do século XX.
2 A palavra seder – em íidiche, סדר – significa “ordem”, e costuma ser usada no judaísmo para designar o conjunto de rituais feitos no jantar da cerimônia do Pessach. Já a palavra Pessach – em íidiche, פסח – quer dizer, literalmente, “passar por cima” ou “passar pelo alto”; designa uma das festas mais importantes e simbólicas da religião judaica, na qual se comemora a libertação dos escravos do Egito e a peregrinação do povo judeu pelo deserto até chegar na terra prometida. A história dessa travessia é contada durante o jantar, que é voltado principalmente para as crianças da família, para que elas conheçam a história de seus antepassados e continuem a transmiti-la através das gerações.